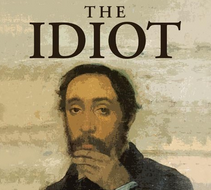“Atheists are my brothers and sisters of a different faith, and every word they speak speaks of faith. Like me, they go as far as the legs of reason will carry them — and then they leap.” ― Yann Martel
Arquivos da categoria: filmes
A vontade de acreditar em Deus: A Vida de Pi, Dostoievski e Camus
Não é a toa que o jovem Pi aparece lendo Dostoievski e Camus em ‘As aventuras de Pi’.
A grande cena do filme é quando o Pi confronta o escritor, para que ele decida qual a história era melhor: a trágica ou a fábula. No livro, a discussão é feita com os dois japoneses da seguradora. Coloquei o primeiro parágrafo do filme e o restante do livro:
Pi Patel: “I told you two stories that account for the 227 days in between. Neither explain the sinking of the Tsimtsum. Neither make a factual difference to you. You cannot prove which story is true and which is not. You must take my word for it. In both stories the ship sinks, my entire family dies, and I suffer. So tell me, since it makes no factual difference to you and you can’t prove the question either way, which story do you prefer? Which is the better story?”
Mr. Okamoto: ‘That’s an interesting question’
Mr. Chiba: ‘The story with animals.’
Mr. Okamoto: ‘Yes. The story with animals is the better story.’
Pi Patel: ‘Thank you. And so it goes with God.’
A conclusão de Pi é simples: se as duas histórias tem o mesmo resultado, e não há como provar nem uma, nem outra, melhor acreditar em Deus.

Os filósofos que alimentaram Pi na adolescência tem pontos que eu considero a favor e contra.
Em Os Demônios, Dostoievski põe na boca de Chatov, para Stravogin: “Não foi você mesmo que me disse que, se lhe provassem matematicamente que a verdade estava fora de Cristo, você aceitaria melhor ficar com Cristo do que com a verdade?“. É basicamente a mesma questão e exatamente a mesma resposta de Pi!
Nas notas de rodapé da edição da editora 34, há a ligação com o diário de Dostoievski, onde ele diz: “Esse símbolo é muito simples: acreditar que não há nada mais belo, mais profundo, mais simpático, mais racional, mais corajoso e perfeito que Cristo, e não só não há como eu ainda afirmo com um amor cioso que não pode haver. Além disso, se alguém me demonstrasse que Cristo está fora da verdade e se realmente a verdade estivesse fora de Cristo, melhor para mim seria querer ficar com Cristo que com a verdade.”
Camus faz diferente. Em o Mito de Sísifo, ele apresenta três formas de encarar a vida: o suicídio, encontrar um sentido pra vida ou encarar o absurdo que é viver. Encontrar o sentido da vida é divido em dois, mas encarado da mesma forma: acreditar em Deus ou dar um objetivo para você, como “ajudar os pobres”, “defender os animais”, etc. Ele chama ambas as opções de suicídio filosófico, os dois são o salto para a fé (leap of faith), para acalmar corações. Camus renega todos esses tipos de suicídio e vai concluir que você deve viver encarando a vida de frente, com todo o absurdo que é o existir, com todas as contradições. Viver a revolta. Em outras palavras, não vale a pena ficar com a história mais bela…
E, trazendo para um contexto moderno, podemos ver essa entrevista do físico e “neo-ateístas” Lawrence Krauss: “…prefiro pensar em mim não como um ateu, e sim como um antiteísta. Não posso provar sem sombra de dúvidas que Deus não existe, mas posso afirmar que preferiria muito mais viver num universo em que ele não exista… Se existisse um Deus, ele certamente teria deixado de se preocupar com os desígnios do cosmos logo depois de criá-lo, há 13,7 bilhões de anos, pois tudo o que aconteceu desde então pode ser explicado pela ciência. Não, Deus talvez não seja irrelevante. Ele é redundante.”
O que é preconceito? De Higienópolis a Danilo Gentili
Em um estado do sul do país, estávamos em três amigos. Um deles tinha um encontro marcado com uma garota da cidade. De posse do carro do outro amigo, fomos todos buscá-la. Depois de uma curta introduçao, resolvi quebrar o gelo:
“Poxa Fulano! Que óculos escuro horrível este aí!” – eu disse.
“É mesmo!” – respondeu o proprietário do veículo.
“É verdade, puta óculos de preto!” – ensurdeceu-nos a menina.
Não houve reação. Nenhum de nós estávamos preparados para algo assim, no século 21. Achava que isso não existisse no Brasil. Pessoalmente me senti impotente de começar qualquer argumentação. O que falar pra ela? O silêncio doía aos nossos ouvidos e nossas almas.
Não lembro quanto tempo se passou até que alguém pudesse reunir forças para abrir a boca e iniciar algum assunto banal. É como uma daquelas piores memórias, que tentam se esconder em nosso subsolo. Revejo a cena pensando em possíveis formas de “jogar tudo que penso na cara dela”. Somente muitos segundos depois, que pareceram uma infinidade, a conversa reiniciou, com qualquer outro comentário banal. Mesmo assim, minha cara-de-bunda era nítida e permaneceu por muito tempo, como a de meus outros dois amigos.
Esse é um exemplo claro e bárbaro. Não há como ficar mais explícito… talvez uma bisavó que não gostava de que seu bisavô contratasse “escurinhos” possa competir.
Refletindo esse caso, percebi que devo continuar me policiando para nunca mais utilizar expressões com as quais convivi na adolescência. É frequente ouvir, em São Paulo, que esse é um óculos “de baiano”. Trabalho com profissionais baianos que se vestem melhor que eu e de muita inteligência, como então usar um termo desses? Há mais casos horrorosos, como se referir a um trabalhador como nordestino, um porteiro como cearense. Meu colega mais inteligente da faculdade, o chouchou de la maitresse, assim como amigos da profissão, é de Fortaleza, e devo muito dos meus conhecimentos a eles.
Se você tenta intervir, poderá receber a justificativa número 1 do manual do ignorante moderno: “ah, mas são os próprios nordestinos/negros/judeus/pobres/(coloque sua minoria (maioria?) aqui) quem têm preconceito com eles mesmos”. De chorar.
Mesmo se existisse uma minoria em que todos seus participantes possuissem determinada característica: podemos, devemos, queremos explicitar uma diferença que tenha conotação negativa?
Há algumas situações mais confusas.
E se o menino fosse negro e se pintasse de branco, como Cirilo do Carrossel? Seria tão engraçadinho? E a questão da camiseta “100% negro”? O professor Kabengele Munanga discute bem essas questões específicas de negros e brancos no Brasil.
Se Shylock, de Mercador de Veneza, pode ser interpretado por Al Pacino de forma tão amigável, podemos descartar a hipótese de preconceito da peça?
E chamar um amigo de veado, para brincar com ele, é aceitável? Podemos associar a cor rosa a homossexualidade, pela piada? E se ele for um jogador de volei homossexual, pode? Devo pensar duas vezes antes de brincar da mesma forma que as gerações antigas faziam com os meninos: “ah! e você vai querer uma bonequinha de natal? só falta me falar que ganhou roupa rosa!”.
E o garoto alto e magrelo, vale ressaltar sua semelhança com uma girafa? Não seria, de alguma forma, próximo a oferecer banana ao macaco? Ou seria uma justificativa para Danilo Gentili chamar negros de macacos:
Se é engraçado piada de gay e gordo, por que não é a de preto? Porque foram escravos no passado hoje são café-com-leite no mundo do humor? É isso? Eu posso fazer a piada com gay só porque seus ancestrais nunca foram escravos? Pense bem, talvez o gay na infância também tenha sofrido abusos de alguém mais velho com o chicote.
O mesmo Danilo Gentili que faz piada do Holocausto, ultrapassando o limite do politicamente incorreto, depois do terrível incidente que da infeliz moradora de Higienópolis criadora do meme “gente diferenciada“:
Entendo os velhos de Higienópolis temerem o metrô. A última vez que chegaram perto de um vagão foram parar em Auschwitz.
Danilo Gentili não está sozinho. Rafinha Bastos que o diga.
Simples brincadeiras? Acho que todas essas expressões já tiveram sua hora, e na próxima geração serão (hão de ser!) consideradas absurdos, como hoje são algumas que nossos avós e bisavós usavam. E não é nosso objetivo sermos melhores do que antes?
Será o fim, inclusive, da piada de português?
Voltando pra casa
Durante o ano de 2009, toda vez que pegava um avião torcia para que passasse a chamada da TAM do banzo cearense:
Emocionante.
Essa incessante busca pela própria identidade pode acabar dentro de nosso próprio lar. Parece que eu me encaixo aqui. Existem outros casos, e admiro a coragem e a felicidade de quem se encontrou muito longe de sua família, de seu país. Salvo quem viajou para fugir, em vez de se encontrar.
Essa chamada da TAM me remete a alguns filmes do Sam Mendes, o diretor de Beleza Americana. Em Away We Go, um casal tentando encontrar o melhor local para construir sua família. Já em Revolutionary Road, o casal terminal em seu antigo lar, mas antes passando por muitos sonhos que serão quebrados. Sonhos que parecem muito com os de nossa juventude: viver de pouco, como em Walden, e focado na família, como em Felicidade Conjugal, inspirados por Into the Wild.
Também me lembra do mesmo Tejo de Fernando Pessoa, e o peso que ganha o rio que passa próximo ao seu lar. Já havia blogado sobre esse poema anteriormente.
Poesia: aprendendo a olhar
Tenho dificuldades com poesia. Entre ela e a prosa, fico com a mais fácil.
Assisti o longo e às vezes entediante filme sul coreano Poesia. Lembro que a resenha de algum colunista da Folha mencionava com especial atenção a cena da sala de aula, quando a protagonista recebe a tarefa de observar bem uma maçã. O professor decidira passar essa lição, pois considerava que “a poesia é ver melhor“. Ver melhor, como a cena acima, de Beleza Americana, que agora ganha um pouco da minha admiração. Antes, considerava essa como a pior parte desse magnífico filme.
Dias depois me deparei com o poema A Arte de ser Feliz, de Cecilia Meireles. Um texto direto e simples, e que senti passar uma mensagem muito parecida a dos dois filmes:
Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar, para poder vê-las assim.
Talvez seja esse o segredo, enxergar a beleza do comum, do ordinário? Parece que esse também era o segredo do Tejo de Fernando Pessoa, que sempre estava diante de sua janela, de sua aldeia:
O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia.
Será que isso é poesia? Ou é apenas mais um carpediem “use filtro solar”?
Se eu fechar os olhos agora
Esse ano o prêmio Jabuti deu muito o que falar. Aproveitei para ler esse livro, de Edney Silvestre, que parece ser alguém famoso do jornalistmo da rede Globo.
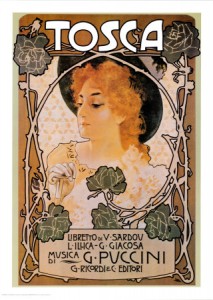 Dois meninos crescendo nos anos 60, investigando a morte de uma mulher. Um pouco policial, um pouco histórico. Há um certo stream of consciousness, mas sem dificultar a leitura como acontece pra mim com James Joyce. Tem 300 páginas, mas é um livro curto, já que há bastante espaço em branco nos rápidos (e divertidos) diálogos. Muitas vezes os dois meninos-detetives são uníssonos no diálogo ou se completam, como neste, em que Eduardo começa, e Paulo sempre meneia a cabeça:
Dois meninos crescendo nos anos 60, investigando a morte de uma mulher. Um pouco policial, um pouco histórico. Há um certo stream of consciousness, mas sem dificultar a leitura como acontece pra mim com James Joyce. Tem 300 páginas, mas é um livro curto, já que há bastante espaço em branco nos rápidos (e divertidos) diálogos. Muitas vezes os dois meninos-detetives são uníssonos no diálogo ou se completam, como neste, em que Eduardo começa, e Paulo sempre meneia a cabeça:
– Nós sabemos que não somos crianças…
– Não somos.
– Mas vocês adultos acham que somos.
– Acham.
– Agorinha mesmo o senhor nos chamou de meninos.
– Chamou.
Lembrou-me dos dois palhaços do Inpetor Geral de Gogól. Diálogos bonitos e que remetem ao companheirismo pueril, com um toque de O Gênio do Crime. Curiosamente os protagonistas, juntos, foram meu nome: Paulo e Eduardo. Coincidências menores que essas seriam o suficiente para impactar a minha leitura.
 Algumas vezes os meninos conversam como adultos. Isso me incomoda bastante: tirar a verossimilhança que está sempre presente nas obras que gosto. Parecido com Kolia e seus amigos em Irmãos Karamazov. Talvez eu veja Dostoiévski em tudo. Melhor: vejo tudo em Dostoiévski, como todo bom pseudointelectual. Em outros momentos são usadas palavras que eu diria serem modernas, ou ainda comparações contemporâneas, como dizer que uma situação é pior que um “melodrama mexicano”. Por mais que possa ser verídico (não sei se é), já eram famosas e melosas as novelas mexicanas em 1960? E o fim do livro é um melodrama, no bom sentido, dando nó na garganta: “Se eu tivesse um irmão, queria que fosse você“.
Algumas vezes os meninos conversam como adultos. Isso me incomoda bastante: tirar a verossimilhança que está sempre presente nas obras que gosto. Parecido com Kolia e seus amigos em Irmãos Karamazov. Talvez eu veja Dostoiévski em tudo. Melhor: vejo tudo em Dostoiévski, como todo bom pseudointelectual. Em outros momentos são usadas palavras que eu diria serem modernas, ou ainda comparações contemporâneas, como dizer que uma situação é pior que um “melodrama mexicano”. Por mais que possa ser verídico (não sei se é), já eram famosas e melosas as novelas mexicanas em 1960? E o fim do livro é um melodrama, no bom sentido, dando nó na garganta: “Se eu tivesse um irmão, queria que fosse você“.
Leitura fácil e agradável. A parte investigativa tem o estilo que eu gosto: não é como Holmes que deduz tudo e só revela no final o raciocínio, mas também é mais rápido que Poirot. Por diversas vezes o texto pula alguns momentos que se tornariam óbvios, e você mesmo faz a ligação entre o que aconteceu entre uma passagem a outra.
 Lendo a contra capa Luiz Ruffato diz que “o corpo de Anita é transubstanciado no corpo do Brasil“. Não gosto de interpretações mirabolantes, mas talvez o autor queira mesmo mostrar algo assim, já que diz “nada neste país é o que parece! E esta cidade é um microcosmo do Brasil“. Em diversas ocasiões, os personagens, no meio da investigação, reclamam ou elogiam a ditadura, Getúlio, Jãnio e Juscelino. Poderia ser uma abordagem interessante, mas essas discussões aparecem em pontos que, na minha opinião, não se encaixam. O livro continuaria bom sem essa “profundidade”, prefiro as referências a filmes e outros fatos que o livro também faz.
Lendo a contra capa Luiz Ruffato diz que “o corpo de Anita é transubstanciado no corpo do Brasil“. Não gosto de interpretações mirabolantes, mas talvez o autor queira mesmo mostrar algo assim, já que diz “nada neste país é o que parece! E esta cidade é um microcosmo do Brasil“. Em diversas ocasiões, os personagens, no meio da investigação, reclamam ou elogiam a ditadura, Getúlio, Jãnio e Juscelino. Poderia ser uma abordagem interessante, mas essas discussões aparecem em pontos que, na minha opinião, não se encaixam. O livro continuaria bom sem essa “profundidade”, prefiro as referências a filmes e outros fatos que o livro também faz.